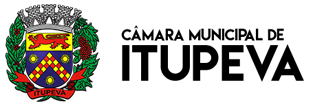Dominique e eu
Confesso que nunca entendi os “cachorrólogos”, aquelas pessoas tão apaixonadas por cães que agem como se eles fossem deuses ou criaturas superiores de um plano divino. Também nunca li “Marley e Eu” e, embora escritor, fico imaginando de onde o autor tirou tanta coisa para preencher um livro inteiro. Bom, basta ler um livro de teoria (de qualquer coisa) para saber que não deve ter sido tão difícil assim.
No entanto, apesar de tudo isso, sempre tive animais de estimação, na maioria cães. Também já tive coelhos, uma pata e até um tatu e já tentei até cultivar vaga-lumes num vidro de maionese e nem preciso dizer que não deu certo.
Mas dentre todos esses bichos, houve um que me fez entender um pouco a “cachorromania” que acomete algumas pessoas.
Lembro que era uma tarde de algum dos meses finais do ano de 94 e eu não havia ido à escola por um motivo muito importante: passar a tarde jogando videogame na casa do meu vizinho. Então minha mãe e irmã (ainda solteira, na época) encontraram uma caixa abandonada com dois filhotinhos de cachorros, duas cadelas na verdade, uma branca com manchas pretas e outra preta com manchas brancas. Como estávamos sem cachorro já que o “Juli”, o primeiro cão de que me lembro, havia sido atropelado por estar cego havia algum tempo, as duas cadelinhas sem casa foram logo adotadas.
Não dei muita atenção, afinal, era tarde de videogame, e nem tão pouco participei do batismo das duas. A branquinha acabou sendo chamada de Babalu (acho que por causa da novela Quatro por Quatro) e a pretinha de Dominique (não faço ideia do porquê).
Bem, aos poucos, cada uma foi desenvolvendo características próprias e que as diferenciavam. Por exemplo, sempre que elas invadiam meu quarto numa manhã preguiçosa, Dominique aproveitava para adentrar sem reserva feito um foguete, pular sobre a cama, correr de um lado para o outro e sair em disparada, tão fogueteira quanto entrara. Já Babalu vinha toda dengosa, com olhos solícitos, tentando conseguir um afago ou mesmo um espaço na cama ou no tapete para ganhar algum carinho.
Não me recordo por quanto tempo essa dupla dinâmica frequentou minha vida e minha casa, mas um dia, Babalu (a branquinha) acabou adoecendo. Não houve tempo de pensar em veterinário ou mesmo tentar adivinhar qual era a doença, que se mostrou fatal na mesma manhã. Dessa forma, Dominique tornou-se o único e exclusivo cachorro a ganhar toda nossa atenção e mimo.
Pouco tempo depois, minha mãe ganhou outra cadelinha, a Jenifer, que era cria da Ianca (outro nome baseado em novela), cadela que pertencia à minha irmã.
Jenyfer era uma poodle graciosa e alegre, que rapidamente ganhou as maiores atenções da família, com exceção de mim, que já havia me acostumado com a Dominique e estava disposto a não deixar que “a nova integrante da família” a fizesse ser relegada a segundo plano.
Lembro-me que nesse período, que talvez seja no ano de 97 ou perto disso, quem ficou doente foi a Dominique. Ou comeu veneno para ratos que algum vizinho desalmado colocava sem aviso ou permissão em nosso quintal, não sei, mas os sintomas eram parecidos com os que levaram Babalu à morte. No entanto, nossa pretinha corajosa mostrou-se mais resistente, conseguimos até levá-la ao veterinário em tempo. E essa visita ao veterinário não foi nada fácil. Meu pai estava trabalhando e tive de carregá-la a pé por todo o caminho e é impressionante como um cachorro de alguns quilos adquire “tonelagem” depois de alguns quarteirões.
Mas o importante é que em alguns dias ela voltou a caminhar com as próprias pernas, comer como se a comida estivesse para acabar e fingir- se de coitada por uns afagos. Sim, foi bem nessa época que seu comportamento começou a mudar um pouco. Dominique ficou mais parecida com Babalu, manhosa e de olhar solícito, enquanto que Jenyfer assumiu a função espoleta. Função que lhe caía bem, Jenyfer tinha ar atrapalhado e “cara” de desentendida.
Infelizmente, não demorou muito tempo para que Jenyfer caísse doente, aparentemente do mesmo mal que já havia afligido as outras duas cadelas e levado uma delas à morte. Jenyfer seguiu o mesmo caminho de Babalu e, mais uma vez, Dominique ficou sozinha.
Nessa época, no ano de 98 e 99, meus pais moraram em Ribeirão Preto. Morei com eles em 99, mas, antes disso, Dominique tornou-se a única companhia da minha mãe enquanto meu pai estava trabalhando. E isso ajudou muito minha mãe a não ter nenhum problema com solidão por morar distante de toda a família.
Quando fui morar com eles, em 99, Dominique acabou adoecendo mais uma vez, sempre da mesma doença que já nos assolara antes. A levamos ao veterinário, e o diagnóstico era de parvo virose, com chance de 1 em 10 para sobreviver. Foram vários dias “de cama”, sem conseguir comer e sem muitas expectativas. No entanto, também graças aos cuidados da minha mãe, depois de quase uma semana de convalescença, Dominique voltava à ativa. Lembro-me de uma situação bem engraçada que aconteceu nessa melhora. Como raramente chovia no lugar em que morávamos, ela sempre latia aos céus quando as gotas começavam a cair. Era uma tarde qualquer, estávamos na cozinha e Dominique deitada em sua “cama” confortável, ainda com poucos movimentos por ainda estar se recuperando. Quando os primeiros pingos começaram a cair, ela levantou-se valente para latir para as nuvens. Mas assim que começou a correr, escorregou com as patas traseiras ao tentar fazer a curva da porta da cozinha. Eu e minha mãe rimos e, como se estivesse envergonhada, desistiu de seu embate com a chuva, cessou de latir e voltou cabisbaixa para seu leito.
A essa altura, Dominique já era parte da família e sempre que viajávamos para visitar nossa cidade ela nos acompanhava, afinal, não podíamos abandoná-la sozinha.
Algum tempo depois, minha mãe arrumou outra cadela, chamada também de Jenyfer (II). Bastante semelhante à primeira Jenyfer, embora com pelos marrons, a nova Jenyfer logo tornou-se o novo xodó, sempre procurando afago e atenção. Foi mais ou menos nesse período que eu notei a diferença de Dominique para os outros cães. Ela jamais lambia alguém. Mesmo que você lhe desse comida na boca, Dominique jamais lambia uma pessoa. Era como se tivesse nojo de nossa pele ou fosse “elegante” demais para se entregar a tais atitudes. E seu orgulho ficava ainda mais evidente quando ficava a pedir por comida. Enquanto qualquer cachorro sempre fica com olhar de “pidão”, atento o tempo todo no objeto de seu desejo, Dominique parecia ignorar a comida totalmente, olhava para os lados, fingia que não estava nem aí, tipo: “eu nem queria mesmo”. Eu achava hilário.
Nos últimos tempos, no entanto, Dominique estava debilitada. Sua audição era mínima (e confesso que eu lhe pregava vários sustos por conta disso) e, embora ainda comesse feito desesperada, estava um pouco abaixo do peso, já que seus dentes já não eram tão fortes para triturar a ração. Mas ainda era a mesma, brincava quando lhe convinha, dormia quando queria e mantinha sua postura orgulhosa.
Houve uma vez em que ela saiu pela rua e desapareceu misteriosamente. Sumiu como se a terra a houvesse tragado. Fizemos cartazes, colamos em alguns lugares no bairro e nada. Sete dias depois, nossa atenção foi chamada por um latido familiar, vindo do portão. Era Dominique! Suja e mais magra, latindo feliz chamando-nos! Nunca saberemos onde esteve ou se alguém a levou. Tudo que posso imaginar é que, de alguma forma, ela conseguiu fugir e encontrar o caminho de volta para casa. Foi uma das coisas mais impressionantes que a vi fazer.
A última vez que nós vimos foi numa manhã de quarta-feira, em 2008. Por volta das 6h da manhã, eu a ouvi latindo, próxima a minha janela. Levantei rápido, assustado, achei que tivesse se ferido. Antes disso, no entanto, eu havia acordado de madrugada com um pesadelo que me tirara o sono e não me deixara dormir por mais de uma hora. Não me lembro do seu conteúdo, mas sei que me deixou assustado. Como se a morte estivesse a rondar as fronteiras da minha casa. Voltando à Dominique, quando cheguei ao quintal junto com minha mãe, ela estava deitada, suja de sangue na boca. Parecia não enxergar, embora os olhos estivessem abertos e ela se esforçasse para levantar. Fiquei um pouco com ela, tentando acalmá-la. Depois voltei para a cama por alguns minutos. E sabia que, quando me levantasse novamente, ela estaria morta. Era o fim, depois de 14 anos de companhia, da saga de Dominique em minha vida. Uma saga completa de uma cadela forte e incomparável, pelo menos para mim.
Talvez seja por isso, pela sua “imitação de cobrinha”, se arrastando de costas pelo chão para brincar, por seu “nojo de pessoas” ou seu orgulho, por sua inteligência de dormir no chão nas noites em que eu permitia que ficasse em meu quarto, por conta de um temporal e, quando acordava, estava ela lá, estrategicamente colocada sobre a cama, subindo apenas depois que eu adormecesse; por seu abanar de rabo honesto, por sua atenção quase que hipnótica quando o assunto era comida ou por seus instintos de caçadora que levaram vários pássaros a morrer em suas patas e dentes, talvez por tudo isso, eu saiba que nunca haverá um cachorro ou qualquer outro animal de estimação capaz de ocupar o vazio deixado por Dominique em nossas vidas e em nossos corações. Principalmente no meu.
Depois de todos esses 14 anos, me recuso a acreditar que não exista um lugar para onde a alma dos animais vá depois que eles morrem. Não parece correto, justo ou certo que eles não mereçam o paraíso ou mesmo que não tenham alma. E se todos os cães merecem o céu, tenho certeza que Dominique tem um lugar de destaque garantido. Por tudo que fez por nós e por tudo que foi para nós. Descanse em paz, Dominique, mas saiba que estará sempre em nossos corações.
Por Luciano Rodrigues